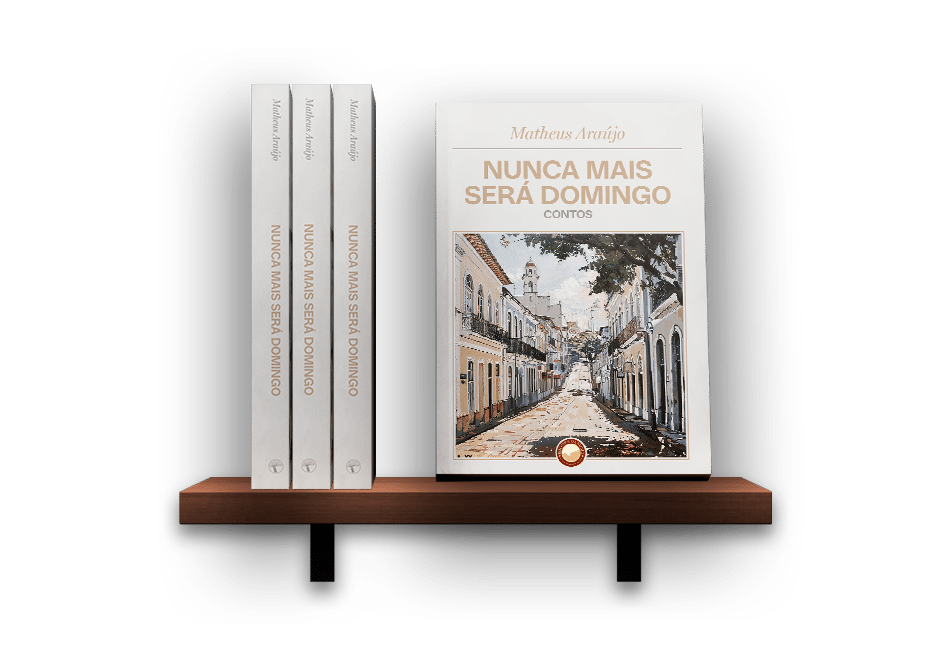Juninho (conto)
Este é um conto que compõe o volume “O Retrato Doente e outros contos de morte e solidão”, livro publicado em outubro de 2021.
Por Fábio Gonçalves
Reparem como o negrinho com ranho seco no nariz, que assiste ao seu cartum predileto, o Tom & Jerry, embolado em sua manta xadrez esburacada, tem uma profunda angústia desenhada no rosto. Esse olho espremido, essa ruga na testa, esse beiço de choro, para quem não sabe, é tudo desenho de angústia.
A sabedoria diz que angústia decorre de uma nossa capacidade mais afinada de antecipar o porvir, coisa que só conquistamos, se é que conquistamos um dia, na idade do juízo. Por isso se julgava que às crianças, até para preservar-lhes a sanidade, restava a mera estimativa animal, aquilo que só denuncia o mal presente, epidérmico, aquele que arrepia, que faz secretar hormônio e exalar cheiros. A humanidade sempre acreditou que angústia fosse coisa de adulto.
O fato é que este menino, de nome Juninho, refutando séculos de observações, efetivamente teve repelão de angústia quando viu o gato enorme do desenho encurralando o ratinho. Foi traído pela memória. Lembrou-se do pega-pega, brincadeira dele com o Celsão.
****
Era manhã de chuva, de tempo feio. São Paulo coberta por uma grossa manta enfarruscada. A rua de Juninho, ainda em barrão vermelho e pedregulhos, desmanchava-se num lamaçal escorregadio que desencorajava os moradores a se desentocarem dos barracões e cortiços. Só os trabalhadores saíram, muito cedo, pulando poças, equilibrando sombrinhas tortas, agarrando-se em portões alheios, sendo mal-recebidos pelos cães, que eram tantos e tão sem-cerimônia. Daí chegaram ao ponto final do Jardim Luso e entraram com os pés barrentos, as jaquetas molhadas e as sombrinhas pingando no ônibus que os levaria ao Brooklin. Inclusive a mãe do Juninho. E foram tão espremidos uns contra os outros na condução de janelas fechadas — para salvaguardar os passageiros do temporal —, que todos chegaram enxutos nos escritórios, comércios e casas de família onde iam passar o dia, vendendo seu trabalho. Tal e qual a mãe de Juninho.
Nesta manhã, veio Celsão com o pega-pega, indicando com sua contagem regressiva, a partir do dez, que o menino corresse a se sumir nalgum canto da casa, que era dois cômodos a se ver numa lançada de olhos, a se percorrer em meia dúzia de passos. Juninho se escondeu no guarda-roupas, atrás de umas calças pesadas do Celsão. Cheirava mofo e virilha. A estreiteza do espaço atiçou a claustrofobia da qual o menino ainda não sabia padecer. Mas não podia sair. Sentia o vulto do homem passando, de canto a outro, como bicho experiente à cata de sua presa.
Bem nessa hora ganhou a rua o carro da pamonha. A voz metálica, bem alta, preenchia todo aquele mundaréu:
“Pamonha fresquinha,
pamonha caseira.
É o puro creme do milho verde.
Temos curau e pamonha”.
E Juninho preso no guarda-roupas, no negrume sufocante, fugindo do Celsão. Era como se lhe fosse acabar o ar. Foi quando lhe perpassou, de primeiro, a idéia da morte. Não digo uma idéia intelectualmente definida, algo que remetesse ao fim de tudo, à tragédia que é pensar que, de uma hora para outra, tudo se acaba, que o mundo some, e que não se sabe o que vem adiante, se Deus, se o nada. Não lhe ocorreu a morte enfeitada pela filosofia ou pela religião, essas coisas que nos aliviam o medo, que nos consolam do horror que é o insondável daqui a pouco; sentiu algo que mesmo as minhocas sentem quando aproximamos nosso pé, mas com o atemorizante e involuntário cálculo da racionalidade.
E o ar não lhe vinha, e os membros travados.
“Venha provar, minha senhora, é uma delícia.
Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras”.
Juninho nunca pediu a pamonha que a voz radiofônica oferecia. Doce amarelo, suculento, polvilhado com canela, esfumaçando um cheiro bom. Às vezes, brincando no portão, ele via a senhora do outro lado da rua, uma preta gorda a quem, na época, os moleques apelidaram Dona Bola, pegando do vendedor um pacote cheio das pamonhas. Ficava babando, achando aquilo bom só de ver. Depois se indignava. Honestamente se indignava. A velha gulosa comeria tudo sozinha, sem filhos ou netos para repartir. Aquela sovina, aquela muquirana. O menino conheceu deste modo o egoísmo, a mão-de-vaca. Passou anos pensando coisas ruins da Dona Bola.
Sua mãe não tinha dinheiro para essas porcarias, pra pamonha, pão de coco, tapioca com leite condensado, e as demais guloseimas que outros carros velhos desciam a rua anunciando. O orçamento, se tanto, dava pra mistura, a dúzia de ovos da Granja do Japonês, a salsicha sebosa e a carne moída de patinho, de terceira, do Açougue Kicarnes, do Seu Quico; também para quitar a Eletropaulo e a Sabesp, para não pendurar os carnês da Marabraz e das Casas Bahia. Juninho não se atrevia a pedir a pamonha, embora sua boca enchesse d’água, de escapar pelos cantos, quando a voz do carro fazia a propaganda, descrevendo a sobremesa como um manjar celestial.
“É o puro creme do milho verde.
Temos curau e pamonha.
Pamonha, pamonha, pamonha”.
Celsão o rondava:
— Tá quente?
Dentro do móvel era o breu, a respiração difícil, a impressão de morte. E não podia sair, o malvado estava de campana, sentindo sua presença amedrontada, farejando como o gato do desenho fazia com o pobre do ratinho. Teve pena do ratinho. Nunca mais torceria pelo gato.
O ar lhe chegava custoso, sua boca colada, a garganta queimante. Os olhos se iam fechando inapelavelmente, da mesma maneira quando o sono nos vai governando, e tudo ao nosso contrário vai se virando num lusco-fusco, e o mundo vai se desmanchando, esmaecendo, até sumir.
Mas talvez ele preferisse sufocar e morrer ali, no escuro, no fedor, a encarar novamente o Celsão. Que diferença fazia? Não consistia a brincadeira do homem também em sufocá-lo? Se servia do travesseiro, dos seus braços invencíveis, do peso do seu corpo duro feito madeira maciça. Era a pena do menino por perder o pega-pega ou o esconde-esconde.
“Olha aí, olha aí, distinta freguesia,
acaba de entrar em sua rua o carro da pamonha.
Pamonha quentinha, pamonha caseira.
Venha provar, minha senhora, é uma delícia”.
Ia dizendo assim o carro da pamonha, agora distante, já dobrando outras ruas e se embrenhando para os cafundós da favela, mundos que Juninho só conhecia de impressões vagas ou de elaborações fantasiosas. Era imensa a favela. Havia todo um morro por descer, por veios espremidos, vielas e escadões erradios e irregulares, dando em lugares sempre novos, como se caminhos projetados por Dédalo a fim de esconder da civilização os muquifos, as bocadas, os descabaçamentos precoces, as biroscas e templos no térreo de puxadinhos, os barracos onde se dançava pancadões e risca-facas.
Juninho só ia daqui para ali. Seu limite era o Zé da Eletrônica, na esquina de baixo. Não conhecia as bibocas para os lados dos Sete Campos e da Represa Billings, que banhava uma reentrância às voltas do Parque Primavera e servia de lazer perigoso à meninada da Estrada do Alvarenga.
E Celsão espreitando.
No guarda-roupas, o coração de Juninho latejava uma dor de tristeza e abandono. Onde estaria a sua mãe? Por que ela o deixara novamente sozinho com aquele monstro? E seu pai, seu verdadeiro pai? Foi aí que deu pela falta de seu pai. Talvez seu pai fosse um homem bom, de procedência nobre, muito ao contrário desse malvado do Celsão. E talvez seu pai fosse valente e capaz de se bater com o Celsão, e de esfolar a cara do bruto, e de sufocá-lo com o travesseiro e com braços ainda mais duros, e com mãos ainda mais ásperas. E ainda podia ser que esse seu pai real e verdadeiro, depois da sova, lhe pagasse, pelo menos uma vez na vida, uma ou duas pamonhas frescas e uma latinha de Coca-Cola de 350ml.
O menino não suportou. Saiu em pinote, às tontas, tentando ganhar o quintal do cortiço, atrás de socorro na vizinha Dona Marta, de quem ele muito gostava. Já na porta, foi pego pelos calcanhares, virado de ponta-cabeça, lançado como um boneco na cama de sua mãe. Então o homem veio com o travesseiro, travou o menino e desabou por cima do corpinho miúdo e magricelo. Quando Celsão colocou o travesseiro sobre o rosto de Juninho, o pequeno sentiu a espuma macia, a fronha lavada pelas mãos de sua mãe, e teve breve sensação de delícia. Então foi esvaindo-se a luz. Seu corpo, em ato reflexo, esboçou debater-se. Todavia, Celsão enredava firme; ele não tinha chances. Dali um nada, sem mais resistir, perdeu a consciência.
Acordou na cama, o Celsão diante de si. Tinha dor na cabeça. O homem, com o bafo doce da cana, o olhar de ameaça, sussurrou:
— Segredo nosso…
Essas foram as lembranças do Juninho. Por isso caiu no choro, encolhido em sua manta, ao assistir ao seu tão estimado Tom & Jerry.
E então ouviu, e seu coração disparou:
— Moleque, vá se esconder.
Detalhes do autor

Fábio Gonçalves
Fábio Gonçalves nasceu em 1990. Professor de História e Redação. Jornalista e articulista do jornal Brasil Sem Medo. Autor do romance Um Milagre em Paraisópolis e do livro de contos O Retrato Doente. Mora em Diadema.